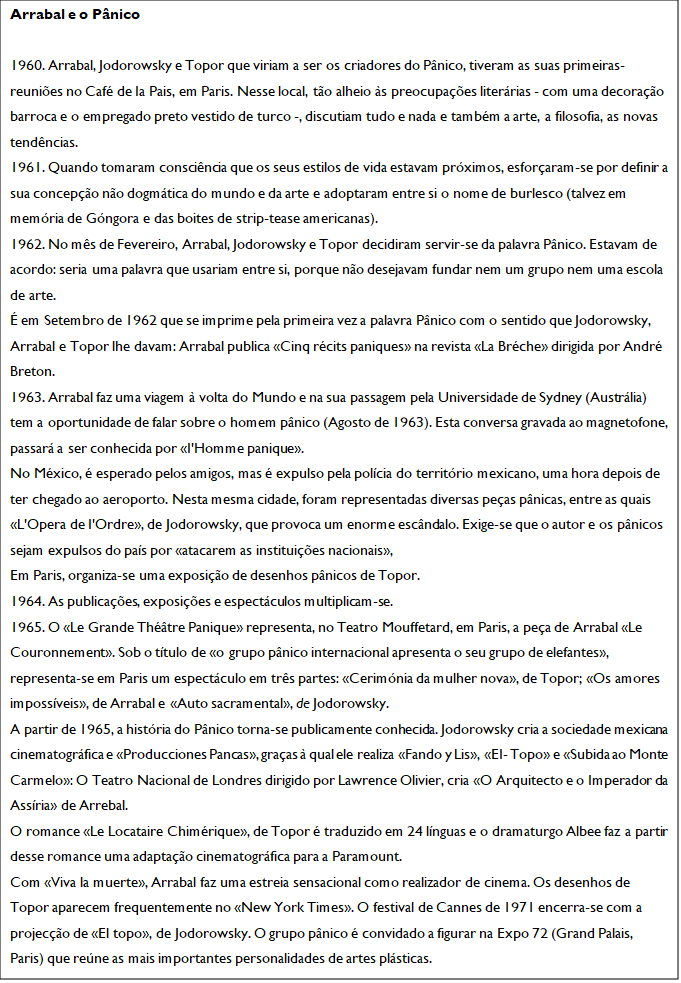Arrabal: “mais vale cair em graça do que ser engraçado”‘
Entrevista conduzida por Helena Vaz da Silva
ARRABAL esteve em Lisboa a convite de Ruth Escobar, que neste momento apresenta o «Cemitério de Automóveis», em Cascais. Helena Vaz da Silva conversou com Arrabal e retrata essa conversa, com a participação da actriz Ruth Escobar, o Prof. André Gonçalves Pereira e o jornalista José Manuel Teixeira.
NÃO TÍNHAMOS conhecido Arrabal quando veio a Portugal em 1960. Por isso o olhámos com olhar virgem no terraço ele Ruth Escobar, onde, antes de ir assistir ao espectáculo, ele contava com a Imprensa e alguns homens de teatro e cinema. Dos retratos, conhecíamos-lhe os contornos, mas não aquilo que, inesperadamente, mais nos impressionou um inexprimível ar, não de frade, mas de freira, com o que isso implica de olhar claro, de mãos pequenas e fofas, de inibição provocante, de mistério, de promessa.
Ali começámos uma conversa que, embora pretendêssemos séria, ele classificou de «rien que des mots doux» e na casa do director do EXPRESSO a continuámos, depois de um «Cemitério de Automóveis» celebrado em atmosfera de Domingo de Ramos.
Depois de se nos ter, de entrada, definido, como «marido fiel», bom chefe de família, cidadão tranquilo», conversou connosco ao longo de duas curtas horas nos termos que adiante se transcrevem.
Ficámos sabendo que a sua vida não tem nada a ver com a sua obra e as suas teorias também não. Será o sonho - o tal limite máximo do real - que tem que ver? A ver.
Há alguns anos você era atacado pelos homens de teatro, sobretudo nos festivais de maior projecção. Hoje, é aceite por todos, tanto pela gente de Teatro mais exigente; como pelas grandes plateias. Como explica o facto?
- Como se diz em Espanha, «mais vale cair em graça, do que ser engraçado...» - suponho que foi isso que me aconteceu, mas, para além desse aspecto, creio que o artista está sempre em avanço sobre o seu tempo. O «Cemitério» por exemplo, foi escrito em 58 e não pode ser mais actual. A sua apresentação em Paris metia barricadas feitas com automóveis velhos e foi anterior de alguns meses às barricadas de Maio de 68. Pode chamar-se-lhe premonição.
Não terá o seu filme contribuído para uma maior audiência da sua obra teatral?
- Ao contrário, porque o meu teatro era conhecido, é que o meu filme-foi um êxito.
Mas o seu filme atingiu muito mais gente...
- Não senhor. O teatro atinge muito mais. Um filme é uma coisa que se faz de uma vez para sempre, que passa um mês ou dois e acabou, ao passo que o teatro se representa ao longo dos anos e se recria constantemente.
Tem outros projectos de filme, depois de «Viva la Muerte»?
- Estou agora a acabar um que vai sair em Outubro. «Comme un Cheval Fou», com Emmanuelle Riva. Mas isso não quer dizer que eu goste de cinema: acho que o cinema é a aspiração de todo o filho-família, que não tem nada que fazer, que teve tempo para ver muitos filmes e porque sabe o que um travelling e um fondu, se considera especialista. O cinema é uma arte menor, o que não requer nenhuma especialização.
Ao passo que uma encenação em teatro exige um trabalho incessante, de semanas, de dias, de noites. No cinema, há um regime de trabalho acelerado: o produtor obriga a realizar uns tantos planos por dia: no teatro, cada noite de peça em cena pode ser um aperfeiçoamento. Eu só faço cinema quando tenho qualquer coisa a dizer que só pode ser dita em cinema.
Sempre que eu puder exprimir-me num romance ou numa peça de teatro, nunca o farei em filme. O cinema arrasta atrás de si todo um cortejo de lugares-comuns, de truques comerciais insuportáveis.
O Pânico foi um filho feito em 1963
- Gostava que nos dissesse qualquer coisa sobre o sentido do pânico o que foi ele para si quando o criou; o que hoje é ou já não é, para assim percebermos o sentido da sua evolução.
- Ah, o Pânico! Foi um filho feito em 63 e que, desde então, regressa constantemente, sem que nos deixem esquecê-lo. Fu estava ligado ao movimento surrealista e sentia-me neles partilhado por dogmas e depurações.
Breton deu-me nessa altura a possibilidade de me revoltar criando um movimento totalmente livre: o pânico (de Pan igual a TUDO).
Como sabem, o surrealismo surgiu como um movimento libertador. Breton a certa altura começou, em nome de uma pureza, a fazer expulsões dogmáticas. Então surgiu o Pânico para recomeçar o que o surrealismo pretendera começar.
Você fala hoje do Pânico com muita distância. Porquê?
- Porque ele foi uma filosofia. Eu escrevi manifestos e textos teóricos e as pessoas estão sempre à espera que nas minhas peças ele esteja presente, o que evidentemente não é o caso. Eu fiz as minhas teorias e depois escrevi peças que nunca tiveram que ver com elas. Nunca as minhas peças tiveram que ver com as minhas teorias. Muitas vezes formulo teoricamente as minhas ideias mais profundas, mas depois não se lhes segue uma peça que as reflicta, porque eu mudo. Por exemplo, posso defender convictamente um teatro pobre e a seguir fazer uma peça cheia de barroquismo.
O meu teatro é revolucionário
Se percebemos, o Pânico foi uma revolta contra o erro dogmatizante do que fora também uma revolta. Mas quando lhe pedimos que nos fale da sua revolta, da violência contida nas suas peças, você respondeu-nos esta tarde, que não sabe o que isso é, e que, pelo contrário, até é uma pessoa muito arrumadinha.
- Alto lá! Eu considero o meu teatro revolucionário. Não sei se é bom ou mau, mas é revolucionário!
Até que enfim que você diz isso. Agora explique em que sentido.
- Num sentido libertador, no sentido de levar as pessoas a usarem diferentemente o seu corpo e a sua alma em toda a liberdade. Isto sem passar por dogmas políticos ou religiosos. O meu teatro é revolucionário no sentido de Rimbaud – «mudar a vida». O Teatro muda o Homem.
Então, hoje, você renega o Pânico, como dogma que ele próprio se tornou. Olha-o apenas como um meio que serviu para atingir qualquer coisa.
- Não renego o Pânico, como não renego o «Cemitério de Automóveis». São obras minhas que se devem estudar, mas não é de esperar que a minha vida corresponda às minhas teorias. Um escritor é uma testemunha da sua época. O Pânico foi a minha daquela época. Agora tenho outras dinamites. Hoje «Irei como um Cavalo Doido».
Pode dizer-se que se considera longe do «Cemitério de Automóveis»?
- Não é bem isso, mas evidentemente que as minhas relações com Manus neste momento não são as mesmas que eram na altura em que o escrevi: hoje não subscreveria a filosofia de Manus.
Gostávamos que concretizasse isso, mais numa perspectiva de futuro. Estamos aqui a tentar perceber o que você será no futuro.
- Por exemplo, se bem que, neste momento, eu ataque um pouco o Pânico, já iá se encontra a grande importância dada à Confusão.
Pois, a confusão e a memória voltam sempre nesses textos.
- A contusão para mim é muito importante no texto e na vida. Até pode parecer que crio a confusão, mas não, ela existe, está em toda a parte. Há valores bem cotados e valores mal cotados. Por exemplo, a ordem e também uma certa desordem são bem cotadas. A inteligência é bem cotada: a memória mal.
Toda a vida é memória.
O que entende você por memória?
- Descobriu-se, recentemente, que o ácido nucleido é a origem da vida. E a memória é ácido nucleido. Toda a vida é memória. Inteligência, amor, são variantes da memória. A inteligência é a arte de se servir da memória. A imaginação é a arte de combinar recordações. No fundo. arranjaram-se nomes para as variantes da memória. Se desaparece a memória, desaparece tudo: inteligência, vontade, imaginação. Houve um período brechtiano em que se recusou o mundo onírico. Mas o sonho é muito importante. A memória fixa sobretudo as coisas que a enchem. O sonho consegue encher a memória, enquanto acontecimentos banais o não conseguem. Por isso, quando se fala de sonho não se fala de coisas estrangeiras, mas da coisa mais realista que há. Eu, quando falo de mim como escritor, digo sempre que levo o meu realismo até ao sonho. Acho que os brechtianos não tinham razão quando diziam que tratar do sonho castrava a realidade.
E hoje em dia há um renascimento do onirismo e do sonho no Teatro Moderno: o “living
Theatre» e agora Bob Wilson é o triunfo do imaginário alargado.
Se se diz a uma criança que faça qualquer coisa, não é um desenho ou um poema que se lhe deve pedir, mas uma peça de teatro, porque o Teatro é o sentido da vida. No Teatro faz-se tudo: escreve-se, desenham-se os fatos, etc.
Portanto, considera o Teatro a arte por excelência?
- Não é o Cinema, com certeza, embora me tenha corrido tudo muito bem nesse domínio. Para mim. o mundo do Teatro tem a vantagem de ser o único onde não somos escravos da tecnologia.
Nos intervalos retomo a teoria
Há algum sentido na sua pesquisa?
- É sempre possível entre duas peças dar lugar à teoria. E, como estou agora num momento desses, ando a pensar que o Teatro fez já um longo caminho, e que tem de concretizar uma subida noutra direcção, estou ansioso por acabar com o cinema, para saber em que direcção será.
Você, quando cria, pensa na influência que terá, ou cria por pura necessidade pessoal?
- Bem, falando do «Cemitério de Automóveis». Quando foi apresentado em França, foi uma revolução de costumes: via-se pela primeira vez o nu. Nessa altura, constituiu um passo importante no caminho da libertação. Depois veio o «Hair» e outras coisas. Todos nós, no Mundo inteiro, colaborámos, cada um no seu setor, numa libertação dos sentidos, hoje finalmente adquirida.
Essa influência, evidente no público, foi importante para si ou continuaria de qualquer maneira? Quer dizer: preocupa-se, quando escreve, em encontrar os meios mais inteligíveis para o público?
- Sim, para mim é importante que o público colabore.
A força de uma encenação
Para si, este «Cemitério de Automóveis» apresentou alguma novidade em relação às outras encenações da mesma peça?
- Não foi tanto o ser diferente, como o ter mais força.
Sente muitas vezes surpresa quando vê pela primeira vez encenações de peças suas?
Talvez não surpresa, mas embaraço, muitas vezes. Sobretudo com textos que me tocam mais directamente, como os «Dois Carrascos» e «Fando e Lis».
Nunca os viu encenados como gostava?
- Sim, mas é exactamente quando estão bem encenados que me perturbam mais.