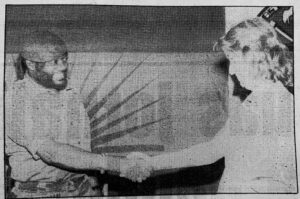“Le regard” de Bob Wilson
Entrevista de Helena Vaz da Silva a Bob Wilson, em outubro de 1973
NÃO SE PODE dizer que seja um homem de teatro. É um pesquisador do segredo da vida que escolheu o palco para campo de experiência. Do seu ar absorto pode dizer-se que é de menino ou de santo ou de louco. O que é uma e a mesma coisa evidentemente.
Fazer-lhe uma entrevista é - percebe-se depois de fazê-la - um absurdo. Ele revela-se mais nos seus “I don't know”, pontuados com um risinho de quem se envergonha de tanta evidência, do que naquilo que o forçamos a dizer-nos. Enquanto fala faz desenhos em guardanapos de papel. Olha tudo com uma fixidez e uma lentidão impressionantes. Vê os pescadores passando os cestos em Peniche ou as mulheres salgando o peixe e quer levá-los para o palco. Diz que se cada um fizer aquilo que se sente bem a fazer, todos, podem ser felizes. Hoje considerado por muitos o génio do século, convidado por Governos de vários países, virá talvez em Janeiro para Lisboa por algum tempo, a convite da Fundação. Chama-se BOB WILSON (também conhecido por Knulp). Apanhámo-lo de passagem e aqui damos o resultado (pobre) de uma conversa (rica) que tivemos. Ah! se ao menos eu permanecesse aquém...
Helena Vaz da Silva
EXPRESSO De que vai tratar o seu próximo livro?
“Hap, Hat, Hath, Hack, Hap, Hat, Hath, Hack, Hap, Hat, Hath, Hack. “
(no elevador a subir)
Bob Wilson Are you American?
EXP. No. Are you American?
B.W. Euh…I don't know…
EXP. Soubémos que está de passagem em Portugal para contactos com a Gulbenkian. De que se trata exactamente?
B.W. Alguém ligado à Fundação que me viu em Paris achou que poderia ter interesse eu vir a Portugal formar um workshop em que a minha equipa trabalhasse em conjunto com gente de cá.
Estive cá em Agosto para uma primeira conversa e agora vim para o que eu supunha ser já o assinar do contrato. No entanto, põem-se ainda alguns problemas como por exemplo: a Fundação exigir que o que eu apresente em Portugal como espectáculo seja uma estreia mundial absoluta. Isso é difícil na medida em que eu uso sempre grande parte do que já fiz no que faço de novo.
Digamos que colecionei, ao longo do tempo, uma série de situações que transpus para o palco e sou apresentando ora umas ora outras, ligadas entre si de diversas maneiras e sob nomes diferentes. Assim, o facto de eu usar o mesmo cenário aqui e em Nova Iorque não significa que o espectáculo seja igual e até sob o mesmo nome, apresento muitas vezes coisas diferentes como aconteceu com o “Deafman Glance”.
“Le Regard du Sourd”
EXP. Foi isso que, em Paris, se chamou “Le Regard du Sourd” que o lançou e lhe deu uns prémios, não foi?
B.W. Sim em Nova Iorque eu mostrei sob esse nome apenas uma peça de quatro horas e ganhei um prémio da Imprensa com ela.
O que se viu em Paris foi, a primeira vez, também uma peça só, e em 1970 um conjunto de 4 peças de muito maior duração. Ganhei com elas um prémio da Imprensa francesa e um da sociedade dos autores Teatrais.
EXP. O que você faz tem, portanto sempre o mesmo nó central. Aquilo a que chamou “Life and Times of Sigmund Freud” era também já isso? E a peça de Chiraz, na Pérsia?
B.W. Sim. Digamos que do que fui vendo e pensando, articulei 7 peças que, para mim, contém tudo. Têm que ver com o número 7, composto de duas partes distintas que significam o enrolar num sentido das 3 primeiras peças e o desenrolar noutro sentido das 3 últimas peças, sendo a quarta peça o ponto fulcral em que a transformação se dá, a zona mais densa.
Na “Vida de Freud” juntei as três primeiras e representei-as primeiro em Nova Iorque e depois em Amsterdão.
Em “Chiraz” – até hoje a nossa mais longa actuação – foram 7 dias e 7 noites em conseguimos de maneira surpreendente, e colectivamente, um ritmo de desaceleração do corpo e, logo, da mente. Dessa vez chamei-lhe “KA MOUNTAIN AND GUARDENIA TERRACE: a story about a family and some people changing”.
EXP. “Desaceleração”, “duração” é capaz de precisar mais o sentido de tudo isso para si e de dizer como começou a orientar-se para essa linha de pesquisa?
B.W. Começou com o meu problema pessoal: até aos dois anos eu não falava. Foi através de exercícios de desaceleração dos movimentos que consegui. Isso levou-me a ter interesse por esse tipo de experiência que procuravam restaurar a comunicação entre as pessoas levando-as a acertar o ritmo do próprio corpo. Trabalhei em hospitais com crianças difíceis, em escolas com classes-problema, em clínicas com alunos desadaptados.
EXP. E daí para o teatro?
B.W. O teatro sempre me interessou. Aos 12 anos fiz uma representação com crianças que teve muita importância para mim. Ainda hoje sou amigo de alguns desses rapazes. Mais tarde, em 1959, escrevi uma peça que foi premiada e recebi um subsídio para a pôr em cena. Mas chegado o dia da estreia assaltou-me o sem sentido daquilo e disse aos meus colegas “Não consigo fazer isto. Vamos antes ficar calados”. Assim fizemos, por entre gritos e uivos do público e ameaças de quem nos financiava. Apesar disso, repetimos o mesmo um dia e mais outro e, estranhamente, um houve em que no público ninguém se mexeu ao longo das nossas duas horas de silêncio. Isso animou-me a prosseguir as minhas pesquisas sobre o segredo da comunicação entre as pessoas.
Procurar o segredo da comunicação
Assim, em 1964, comecei com uma peça de 3 horas com 45 pessoas em silêncio a que chamei “The King of Spain”. E assim, continuando a responder a chamadas dos hospitais, das universidades, dos grupos de estudo que se interessavam pela minha visão da comunicação, eu vou prosseguindo a minha busca, extraindo disso tudo o meu teatro.
EXP. Assim não são duas actividades paralelas, mas uma só?
B.W. Eu olho para as pessoas, vejo-as a mexer, ouço-as falar e, quando consigo estruturar uma série de situações, nasce uma peça.
EXP. Quando se referiu à sua vinda para Lisboa disse que iria trabalhar com gente de cá. Por outro lado, você tem a sua equipa. Como é?
B.W. Tenho um grupo de 50 pessoas que me acompanha sempre de que fazem parte algumas que se interessam por certos aspectos específicos de experimentação e em cada terra arranjo outras tantas que queiram associar-se ao nosso trabalho. E é a partir do concreto dessas pessoas que encontro, conforme o que elas sabem fazer, os gostos ou os olhos que têm, que construo cada espectáculo.
EXP. Transpõe, portanto, a vida para o palco?
B.W. Sim. O meu teatro é diferente do teatro que se vê porque eu não me sirvo da aceleração do ritmo que todo o teatro é e, por outro lado, não quero também mostrar pessoas a representar. Uma bailarina que dança bem um pas-de-deux, um actor que representou na perfeição um papel que lhe mandam decorar são coisas maravilhosas, mas não são as que me interessam. Eu peço só às pessoas para serem. Uma mulher que tome chá simplesmente, sentada no palco, por exemplo.
E o curioso é que, quando pedi à Madelaine Renaud, com quem trabalhei, que fizesse isso, ela não foi capaz. Tomava chá como uma actriz e não era isso que eu queria.
EXP. Sabemos que, durante a sua estadia, viu a “Comuna” e que o trabalho deles o interessou a ponto de propor-lhes intervir na sua representação.
B.W. Sim, embora eles se encontrem no ponto oposto do que eu procuro, gostei do que fazem. Eles gastam um máximo de energia para cada cena, eu tento gastar o mínimo.
EXP. A que necessidade sua corresponde essa sua forma de fazer teatro?
Por que faço este teatro
B.W. Primeiro porque é que faço teatro, depois porque é que faço este teatro. Faço teatro porque, como já disse, o considero um meio ideal de comunicação das pessoas consigo próprias. Do grupo com que trabalhei agora em Copenhaga fazia parte uma criança de 4 anos e uma mulher de 87. Tenho a certeza que, para qualquer delas, foi importante o que fizemos e o que elas fizeram teve também um sentido para os que as viram.
Além disso, o teatro é de facto a arte total, em que se pode jogar com a luz, a cor, o movimento, a voz, a palavra: tudo. E depois no teatro é permitida uma certa loucura e eu preciso disso.
Este teatro faço-o porque acredito que, aprendendo a desaceleração, se descobrem coisas insuspeitadas.
Uma coisa que me obceca neste momento é a importância do piscar do olho na imagem que se tem da realidade. Se não se fechassem os olhos aquela fracção de segundo, o que víamos era diferente porque, durante aquele tempo, nós vemos uma imagem interna que existe no fundo da nossa cabeça e que se vai misturar com a imagem externa. Ao tornarmos mais lento o nosso ritmo, é cada vez maior o tempo em que os olhos se fecham e a imagem interna toma cada vez mais importância, até que há um momento em que o tempo do piscar de olhos é quase igual ao de tê-los abertos e finalmente adormece-se; reino da imagem interna.
Um exemplo que completará a minha ideia é o de pegarmos numa fita de 6 mm e observar os 6 fotogramas que correspondem a um segundo da cena, por exemplo, de uma mãe pegando ao colo de uma criança que chora. Essa cena que, vista em movimento, revela uma mãe sorridente a agarrar na criança, quando vista imagem a imagem, dá-nos uma mãe que, num momento, investe para a criança num esgar de agressividade o qual, na imagem seguinte, está já transformado noutra coisa. Isto mostra como as nossas reacções mudam de milésimo em milésimo de segundo, sem que nós, nem ninguém, tenhamos consciência disso. Ora, desacelerando o nosso ritmo, será possível tomar consciência dessa variação.
Em Chiraz, ao longo daqueles sete dias e sete noites em que eu, por acaso, adormeci no palco durante 5 horas quando era suposto fazer várias coisas, mas isso é que estava certo, creio que houve qualquer coisa disso: um efeito palpável da desaceleração do ritmo das pessoas. Passa-se a ser sensível a coisas a que não se é normalmente e vê-se tudo de maneira diferente.
EXP. Isso é capaz de ser verdade para si e, quanto muito, para as pessoas do seu grupo, mas sê-lo-á para o público em geral?
Corresponder às frequências de cada pessoa
B.W. Acho que sim, por isto: existem ondas de várias frequências e cada pessoa funciona na sua. Eu procuro que se passem no meu palco simultaneamente cenas correspondentes às várias frequências. Assim, às pessoas adormecidas corresponderá, num canto, uma mulher imóvel, sentada numa cadeira: para as pessoas em semi-torpor haverá uma tartaruga que leva uma hora a atravessar o espaço visível enquanto que, em intenção das pessoas frenéticas um homem correrá permanentemente de um lado para o outro do palco.
Deste modo, cada um poderá ir ajustando a sua frequência ao que está acontecendo, como quem procura, no alto mar, adaptar-se ao ritmo das ondas.
EXP. E os membros do seu grupo vêem as coisas como você? Discutem em conjunto os espectáculos a montar?
B.W. Não sei se vêem, mas creio que não. Cada um vê o que vê tem as suas razões. Nunca discuto o que faço, aliás eles acusam-me disso.
EXP. Não sente, portanto, grande necessidade da colaboração de ninguém. E da aprovação das pessoas: dos da sua equipa, do público, dos críticos e colegas de teatro?
B.W. Não sei. Para mim é mais importante estar convencido do que faço, do que os outros o estejam.
EXP. Que homens de teatro é que você aprecia?
B. W. Francamente: nenhuns. Acho interessante o que os outros fazem, mas é tão diferente do que me interessa…
O que pensam os outros
EXP. Mas sabe o que se diz a seu respeito?
B. W. Sei que o Peter Brook e alguns outros gostam do que faço. Sei que o Arrabal escreveu um livro a meu respeito, mas para dizer a verdade, como é muito grande e eu não sei francês, não faço ideia do que ele diz. Suponho que deve ter uma visão muito política que me interessa pouco.
EXP. Não foi o Aragon que escreveu uma carta a André Breton, morto, a seu respeito?
B.W. Com ele passou-se uma coisa terrível. No fim da representação ele foi ter comigo aos bastidores e disse-me que tinha acabado de ver a coisa mais bela da sua vida e convidou-me para qualquer coisa. Eu, que nunca tuinha ouvido falar dele, não aceitei porque de facto tinha o trabalho com os actores e outras coisas que me preocupavam. Só mais tarde tive consciência do que representava o elogio dele.
EXP. Há alguma nova linha de pesquisa sua em perspectiva, algum projecto?
O Som e a fala
B.W. Sim, até agora tenho-me interessado sobretudo pelo movimento, agora estou muito virado para os problemas do som e da linguagem. Trabalho com uma rapariga que tem o dom de falar em vários registos de voz ao mesmo tempo, como se fossem várias pessoas. Suponho que tem que ver com o utilizar simultâneo dos momentos de inspiração e de expiração para a saída do som. É um caso extraordinário que interessou muito um grupo de antropólogos que estudam problemas de fala e linguagem com quem tenho trabalhado em Paris.
Numa experiência com um rapaz de Alabama surdo mudo, de 13 anos, com quem trabalho há bastante tempo, verifiquei a importância do movimento na libertação da fala. Libertou-lhe a energia do som concentrada e ele falou. Aliás, alguns antropólogos dizem que a fala foi antecedida da dança, na história da humanidade.
EXP. Esse novo interesse irá traduzir-se, portanto, no seu teatro?
B.W. Vou fazer agora uma ópera em que a palavra terá muito maior importância.
EXP. Mais algum projecto?
B.W. Sim, um livro e um filme que tenho de começar agora, mas não sei ainda o que será.
EXP. Ouvi dizer que esse cenário que você utilizará no espectáculo em Lisboa vai custar a bonita soma de 20 000 dólares. Quer dizer que discorda do chamado “teatro pobre” que hoje designa quase tudo o que se faz em teatro moderno por esse mundo?
B.W. Não é o problema de discordar. É só que eu sou esquisito e as minhas coisas têm que ser feitas exactamente como eu as tenho na cabeça. As pessoas dizem que eu sou doido…
EXP. O que você precisava era de um Luís II que lhe mandasse construir grutas e palácios só por sua causa.
(No elevador a descer)
H.V.S. May I ask what the new book will be?
B.W. Hap, Hat, Hath, Hack, Hap, Hat, Hath, Hack, Hap, Hat, Hath, Hack. Thank you.
H.V.S. Thank you.